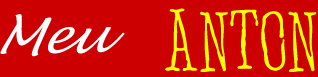 |
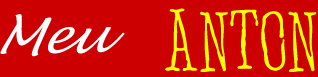 |
Mila, A Mais Que Amada, e sua filha Titi
Textos de Carlos Heitor Cony
Publicados no jornal Gazeta do Povo
Mila
31/01/1994RIO DE JANEIRO - Recebo o bilhete de Octávio Mello Alvarenga. Uma de suas Setters (ele tem duas, como eu) dera ninhada, nove diabinhos ruivos, olhos cor de mel, tão difíceis de criar que criam logo um problema e uma dor. O problema é como ficar com toda a ninhada. A dor é ter de dar (há infelizes que vendem mas são desnaturados que envergonham a já envergonhada raça humana). Numa hora dessas, escolhe-se os amigos do peito e os bananas de sentimento. Octávio honrou-me, pensando me oferecer uma delas.
A primeira vontade é aceitar. Perdido por duas, seria fácil perder-me por três. Mas Octávio é mineiro, romancista, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, foi genro de Drummond de Andrade. Dele se pode esperar as melhores coisas — não iria cometer o crime, pior do que o crime, o exagero de criar-me um problema de consciência e afeto. Mesmo assim, como o assassino que poupou a vida da vítima mas não lhe quer poupar a ameaça, comunicou-me o perigo que me rondara.
Sim, ele tinha razão. Eu não podia ganhar mais uma Setter. A duas que tenho, mãe e filha, enchem-me a casa e a vida. Mila também teve ninhada, fiquei com uma de suas filhas, uma coisa fofa e chameguenta que alegra meus dias e me perturba as noites, quando cisma de dormir comigo.
Mila é mais sóbria, mais sólida e sábia. Na noite em que meu pai morreu, vim em casa tomar banho, fazer a barba, trocar de roupa, preparar-me para o dia que me aguardava. Sempre que coloco a chave na fechadura, por menor ruído que faça, ela se coloca atrás da porta e espera. Pula em cima de mim, seu hálito aquece meu pescoço, seus olhos procuram os meus e ela me lê. Sabe como estou, como foi meu dia e como está a vida.
Naquela noite não pulou, nem olhou meus olhos. Cabeça baixa, rabo entre as pernas, ela sabia. Eu não avisara a ninguém mas a ela nada precisava dizer. Encostou-e aos meus joelhos, cúmplice e solidária. E ela, que do mundo lá fora esperava um pai, do mundo lá fora recolheu um orfão.
A melhor parte
08/05/1994RIO DE JANEIRO - Liturgia de todas as manhãs: quando me vê entrar no banho, Mila vai para o canto dela e desaba. Sabe que vou sair, só voltarei à noite. Fecha os olhos e espera. É a única pessoa que realmente me espera. Digo "pessoa" embora Mila seja mais do que isso.
Quando volto, ela adivinha a aproximação do meu carro. Vai buscar a filha, Titi, avisando-a que estou para chegar. Titi se distrai com os passarinhos da lagoa. Quando escurece ela fica olhando os faróis dos carros. Até hoje não entendeu direito por que os carros têm luz branca na frente e luz vermelha atrás. Mistérios da vida, dos cães e dos carros.
Sábados e domingos a liturgia é de festa. Mila sabe que é sábado porque me vê de calção para ir à praia e vai buscar minha sandália.
Há doze anos que sempre espera por esse momento: toma sorvete, come uma fatia de melancia e mergulha nas ondas da Praia do Diabo — a única liberada para tudo — não fosse ela do diabo. Depois do almoço, ela tem lugar na rede, ao meu lado. Sim, somos felizes porque estamos juntos.
Quando viajo, quem toma conta de Mila diz que ela encara o tempo como se fosse um dia: distribui cientificamente as horas — manhã, tarde e noite — e espera. Sabe que, ao cair a noite, a porta se abrirá e o dono — eu — chegará. Pior para mim: tudo que sou cabe nesse "dono". O resto é o resto — acho que foi Hamlet que disse: "O resto é silêncio". É por isso aí mesmo.
Do outro lado da corda, estou eu, esse "dono" que não é dono de nada, nem de si mesmo, dono pior que o dono de tudo. Bem, tenho Mila, sei que as portas do inferno não prevalecerão contra mim: ela me espera. À minha maneira, também desabo num canto, vou à luta, fecho os olhos e aguardo o momento da chegada. Mila tem um jeito doce de olhar com seus olhos de mel, que combinam com seu pelo dourado e farto. E sempre é bom chegar: deixo com ela a melhor parte de um dono que nunca teve uma parte melhor.
Notícias da mais que amada
09/01/1995RIO DE JANEIRO - Podem não aceitar mas entre as cartas (poucas) que recebo, metade pede que eu dê notícias de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi, também amiga e companheira. São duas setters, de pêlo ruivo e macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua que serve de base ao Cristo Redentor, me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação (minha e delas) afagar e serem afagadas. A mão, ainda adormecida, conhece de cor aquela curva suave que forma a cabecinha delas.
Quem ama os cãe sabe que eles gostam de ser manuseados. E não se contentam com o afago: querem ouvir coisas. É preciso dizer que são queridas, a razão de eu levantar e ir tomar café distribuindo com elas o pedaço de bolo, o biscoito com um pouco de manteiga.
São guloseimas pouco recomendáveis. Se sentem mais gente, mais minhas, sabendo que com elas reparto o pão nosso de cada manhã.
Titi é mais afobada, come o biscoito num único bote e fica me cobrando outro pedaço. Mila, como o "Dom Casmurro" naquele trem da Central, tem fumos fidalgos, lambe primeiro a manteiga, depois aceita o biscoito. Também fica me olhando — e geme se não reparto com ela mais um bocado.
Depois vem a hora que detestamos. Banho tomado, apanho as chaves do carro. A despedida é unilateral, elas tombam junto à porta, caem como Dante caiu naquele círculo do inferno: como mortas. Mas dia sim, dia não, sabem que vou passear com elas na Lagoa ou no Arpoador.
Há a volta. Por pior que tenha sido a vida lá fora, por mais abominável que esteja a faina humana, elas me recebem como se nada pudesse ter acontecido — e sempre dou razão a elas. O importante é sentir na mão o calor ruivo daquele pêlo macio, os olhos que me fitam e me cheiram. Já ganharam a sabedoria de cheirar com os olhos cor de mel. E adivinhar que a melhor parte de um homem — cansado corpo de rude caminhar — ficou com elas. E com elas adormecerá, à espera de um novo sol que trará a rotina do amor de cada dia.
Mila
04/06/1995RIO DE JANEIRO - Era pouco maior do que minha mão: por isso eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, enconstei-a ao peito para que ela não caísse, simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me profundamente: escolheu-me para dono. Pior: me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos, a patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento?
Amá-la — foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza.
Tendo-a a meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de nove filhotes, escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser três. E passeavamos pela Lagoa, com a idade ela adquiriu "fumos fidalgos", como o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Era uma lady, uma rainha de Saba numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários.
No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito, levei-a até o fim. Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, houvesse o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela.
Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a, em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade.
Rua Mila
01/10/1995RIO DE JANEIRO - Ontem fez quatro meses que perdi Mila. Fui ao armário onde guardo suas lembranças, mexi em papéis, o pedaço de tapete que ela roeu quando tinha cinco meses — era o único luxo da casa, comprado no mais fundo Oriente. O tapete acabou ficando para ela e foi nele que ela viveu seus últimos instantes.
De um envelope caiu a foto, tirada em Varsóvia, a placa da Rua Mila, rua que não existe mais. Eu tinha ido a Polônia a trabalho, quis saber onde ficara o gueto que resistira aos nazistas. As autoridades daquele tempo não apreciavam a curiosidade ocidental a respeito de certos assuntos, mesmo assim me levaram a Rua Mila.
Ela havia sido arrasada, casa por casa, pedra por pedra, pelos nazistas que massacraram o povo que ali vivia. Ao libertarem a cidade, os russos reconstruiram apenas o lado esquerdo, a fim de que não houvesse um número 18 naquele local — que se transformara no centro da resistência do gueto.
Procurei o número 18. Não o encontrando, limitei-me a fotografar a placa azul da rua, numa parede cenográfica, pois ninguém parecia morar nela. Os russos têm fama de superticiosos, não iriam ressuscitar o endereço que tinha, atrás de si, um passado de luta e liberdade.
Semanas depois, aqui no Rio, eu estava segurando essa foto para paginar uma crônica quando recebi uma cestinha de pão. Dentro dela, pão gordinho e quente, saído do forno, vinha aquela que seria minha companheira mais que amada. Não tinha nome, embora tivesse pedigree.
Precisava dar um nome aquilo. Ainda era "aquilo". Logo seria aquela a quem eu mais amaria neste mundo. Eu segurava a foto, reparava o nome em letras brancas no fundo azul. De repente, vi que Mila era mais do que uma rua distante numa cidade que nada tinha a ver comigo.
Coloquei minha mão em cima de sua cabecinha, ainda pouco maior do que uma bola de tênis. Chamei-a de Mila. E descobri como era macia aquela amiguinha que me chegava numa cesta de pão — pão quentinho que, nos 13 anos que se seguiram, alimentaria minha fome e aqueceria minha mão.
Adolpho
22/11/1995Eu estava paginando matéria sobre a minha ida à Polônia, umas duzentas fotos espalhadas pela mesa, procurava o cromo da rua Mila que eu fotografara, rua do gueto de Varsóvia.
Adolpho apareceu no corredor e pensei que ele vinha ver o material que eu trouxera. Somente quando chegou perto é que notei que ele trazia alguma coisa de encontro ao peito, um peito enorme de russo branco, de eslavo, de mujique, um peito rasputiniano.
Ia mostrar-lhe a rua Mila quando ele colocou em cima das fotos uma filhote de setter, menor do que a mão dele. "Toma. Dê um nome bonito. Sua vida vai ficar diferente."
Com o cromo da rua Mila não mão, não tinha escolha. "Vai se chamar Mila." Adolpho achou o nome bonito e saiu de perto. Mila olhou para ele, depois olhou para mim. Acredito que, por um momento, ficou indecisa, sem saber quem seria o seu dono. Eu estava no meio de um trabalho, a produção esperando para fechar o caderno.
Outra vez não tive escolha. Peguei Mila, olhei seus olhinhos que mal se abriam. Ela procurou o meu peito e eu o dei, para sempre. Providenciei a mudança de caderno e deixei o trabalho para o dia seguinte. Afinal, recebera uma tarefa nova, prioritária — e como!
Mila mudou minha vida. E me ligou ainda mais a Adolpho. Foi meu regra-três no amor de Mila. Ensinou-me a cuidar dela. Quando vinha visitar-me, ela adivinhava que Adolpho chegava. Ia esperá-lo na porta, os olhinhos cor de mel brilhando de alegria.
Na casa dele, em Teresópolis, Mila era recebida como uma rainha, podia fazer tudo, inclusive cair na piscina, o pessoal reclamava. Adolpho achava graça. Em maio, choramos juntos quando Mila se foi, o Fernando Barbosa Lima, que estava junto, também ficou abalado, ele tem o Sony, um labrador que era uma espécie de irmão da minha setter.
Foram 13 anos com Mila. Trinta anos com Adolpho. Não reclamo das perdas. Em vez de uma, tenho agora duas memórias que me perdoam quando aceito a culpa de ter ficado mais só.
Nota: O Adolpho do título é Adolpho Bloch
Assunto pessoal: as mãos
06/05/1996RIO DE JANEIRO - Não é que a minha vida esteja interessante. A vida pública está tão chinfrim (a novidade foram as críticas do Betinho e do Renato Aragão ao programa social de dona Ruth Cardoso), que decidi tratar de mim mesmo. No sábado, aproveitando a praia incerta, peguei o carro e fui visitar o túmulo de Mila.
No caminho, comprei umas violetas num vasinho que parecia com a tijelinha na qual ela gostava de beber água de coco. Como o Dom Casmurro do Machado de Assis. Mila tinha fumos fidalgos, quando ia ao Arpoador não bebia a água plebéia dos outros, preferia água de coco, que durante algum tempo foi a âncora do nosso câmbio. Custava sempre um dólar quando o dólar estava quase a três mil cruzeiros. Hoje custa um real e meio — forneço essa pesquisa aos economistas do governo.
O embaixador Roberto Campos também freqüenta a mesma praia, toma água de coco, só que com um canudinho vagabundo de plástico. Mila exigia a sua cumbuquinha de louça, comprada num antiquário da Vila del Corso, em Roma. Era, em todos os sentidos, uma dama, uma lady, uma Queen of Sheba. O citado embaixador, que não gosta de cães, um dia dignou-se a observar: — Ela é mesmo muito bonita.
Pois o vaso com as violetas tinha a mesma forma. As flores muito roxas e agarradinhas, formavam um buquê pequenino.
Coloquei-as sobre o túmulo de granito cor-de-rosa que mandei fazer para ela, no qual gravei a dedicatória do meu último livro: "A mais que amada".
A poeira de um ano esmaeceu as letras, estavam quase apagadas. Ia limpá-las com o lenço mas preferi usar as mãos. Mila gostava delas, exigia a toda hora que eu as passasse em sua cabeça. Quando eu chegava da faina diária, ela só ficava quieta depois que lhes sentia o cheiro e o calor. Mãos que ficaram inúteis, há um ano. E de repente encontraram novamente o que fazer.
NOTA: O livro dedicado a Mila é Quase Memória
Os Fantasmas da Noite
08/12/1996Das coisas boas que Mila me deixou, além da saudade brutal que não vai embora, a mais importante é Títi, uma setter dourada como sua mãe, que esta semana completou dez anos. Tanto o socialismo como o neoliberalismo, com motivações antagônicas, acreditam que os homens devam ser iguais. Pode ser. Com os cachorros é diferente.
Mila não perdia tempo com banalidades. Nunca se rebaixou a ver TV. Dava-lhe as costas, preferia ficar me assistindo, eu era seu espetáculo — o que era recíproco. Contudo, não podia ver uma videogravadora ou máquina fotográfica apontada para ela, logo fazia caras e bocas, era uma lady, uma Rainha de Sabá.
Títi é diferente. Despreza ser fotografada, em compensação, adora ver TV — mais até do que o recomendável. A mania começou há cinco anos, com a Guerra do Golfo. Ela cismou com a cara do Saddam Hussein e latia para ele. Enquanto durou a guerra, vigiou a TV, esperando que ele aparecesse para encoleriza-la. Meu vizinho judeu veio reclamar dos latidos, quando soube para quem Títi latia, pediu desculpas, a mim e a ela.
A guerra acabou, a mania ficou. Com o tempo, Títi descobriu outras coisas para gostar ou desdenhar na TV. Não gosta de desenhos animados nem de shows de auditório. Instalei um aparelho em seus domínios, ligado no canal Discovery, que exibe umas viagens pela África, animais, peixes, essas coisas. Ela passa horas diante daquilo que o canal chama de "maravilhas do nosso universo".
Basta eu apagar a luz e me deitar, ela abandona as maravilhas do nosso universo e vem dormir no tapete ao lado da minha cama. Quando tem pesadelo e começa a gemer, basta que eu bote a mão em sua cabeça que tudo passa.
Quando sou eu que enfrento meus fantasmas, faço a mesma coisa. Sinto sua cabecinha na minha mão — e os fantasmas, derrotados, urrando, são tragados pela noite e desaparecem.
O amor e a morte
23/02/1997RIO DE JANEIRO - Foi em dezembro, dez anos atrás. Mila teve nove filhotes, impossível ficar com a ninhada inteira, fiquei com aquela que me parecia a mais próxima da mãe.
Nasceu em minha casa, foi gerada em minha casa, nela viveu esses dez anos, participando de tudo, recebendo meus amigos na sala, cheirando-os e ficando ao lado deles — sabendo que, de alguma forma, devia homenageá-los por mim e por ela.
Ao contrário da mãe, que tinha alguma autonomia existencial, aquilo que eu chamava de "fumos fidalgos", como o Dom Casmurro, Titi era um prolongamento, o dia e a noite, o sol e todas as estrelas, o universo dela centrava-se em acompanhar, resumia-se em estar perto.
Quando Mila foi embora, há dois anos, ela compreendeu que ficara mais importante — e, se isso fosse possível, mais amada. Escoou com sabedoria a dor e o pranto, a ausência e a tristeza, e se já era atenta aos movimentos mais insignificantes da casa, com o tempo tornou-se um pedaço significante da vida em geral e do meu mundo em particular.
Vida e mundo que deverão, agora, continuar sem ela — se é que posso chamar de continuação o que tenho pela frente. Perdi alguns amigos, recentemente, mas foram perdas coletivas que doeram, mas, de certa forma, são compensadas pela repartição do prejuízo.
Perder Titi é um "resto de terra arrancado" de mim mesmo — e estou citando pela segunda vez Machado de Assis, que criou um cão com o nome do dono (Quincas Borba) e sabia como ninguém que dono e cão são uma coisa só.
Essa "coisa só" fica mais só, nem por isso fica mais forte, como queria Ibsen. Fica apenas mais sozinho mesmo, sem ter aquele olhar que vai fundo na gente e adivinha até a alegria e a tristeza que sentimos sem compreender. Sem Titi, é mais fácil aceitar que a morte seja tão poderosa, desde que seja bem menos poderosa do que o amor.
De cães e rosas
18/11/1997RIO DE JANEIRO - Tanto no Rio quanto em São Paulo ocorreram dois casos graves envolvendo cães e, naturalmente, entra em discussão a conveniência (ou a legalidade) de termos ao nosso lado esses animais que, no meu entender, são bem melhores do que o homem.
No Rio, pretende-se proibir a criação de pelo menos duas raças, o Pit Bull e o Fila, sendo que a primeira já é proibida em alguns países que aceitam cães como cidadãos comuns. É o caso da Inglaterra e de alguns condados dos Estados Unidos.
Em parte, há razões para a proibição. Criadores realizam experiências homicidas com certas raças, como a do Fila, para produzirem armas de agressividade. E vendem o produto a pessoas desclassificadas que saem às ruas exibindo a ferocidade de animais que deveriam permanecer nas propriedades a serem protegidas.
Na Idade Média, quando era comum o envenenamento para manter a sucessão em dinastias ou em heranças, ficou banal envenenar comida ou bebida. Os mais sofisticados envenenavam rosas, rosas tão vermelhas que pareciam pretas. Cheiradas, ou encostadas à face, produziam efeito mortal. Apesar disso, não se pensou em proibir o cultivo de rosas.
Vivendo em sociedade, sou obrigado a aceitar a convivência com gente que detesta cães e, pior, com gente que gosta errado de cães. É uma pena. Posso garantir, por experiência própria, que a vida, tão avara em me dar alegria e ternura, compensou as traulitadas que levei por aí com duas maravilhas de amor: minhas Setters Mila e Titi.
Como guardas, eram uma lástima. Se entrasse um ladrão em minha casa, elas o receberiam com o mesmo carinho, a mesma alegria com que recebiam meus amigos. Num desses sábados, ouvi Maria Callas, di Stefano, Tito Cobbi, regência de Tullio Serafin, numa das óperas que Mila adorava. Juro que a senti, a meu lado, com seu corpo dourado e quente, vivo como a saudade.
Eu vi o Millôr
09/02/1994RIO DE JANEIRO - Tomo Stendhal como exemplo: o desejo de ser invisível, ver sem ser visto. Em criança, eu me distraía assim, sobretudo depois que assisti "O Homem Invisível" com Claude Rains. Stendhal não viu o filme nem tomou conhecimento do livro de H.G. Wells, mas tentou ser invisível: adotou mais de 20 pseudônimos, com um deles ficando imortal. Até na hora do morte, ao redigir seu epitáfio, ele procurou blefar inventando um novo nome e fazendo-se passar por milanês. Coisa de gênio. Pois tive meu momento de Stendhal: no último domingo, vi o Millôr andando em Ipanema com sua cachorra (ou cachorro: à distância não dá para perceber, homens e cães são difíceis de indentificar em tempos de bissexualidade e carnaval).
Vi e não fui visto, pude saborear a cena: a cachorrinha de Millôr é branca, aristocrática, faz um genero próximo ao das peruas, só que, em sendo cachorra, sendo perua é um charme suplementar. Caminha à frente, em verdade vos digo, não é Millôr que leva a cachorra, é a cachorra que leva o Millôr. Andam apressados, Millôr vai de cabeça baixa, concentrado e denso. A cachorra empina o focinho para curtir a própria glória, desfila como um destaque de escola de samba, sabe que provoca admiração e pasmo, branca e fofa como um doce de açúcar, as perninhas ligeiras puxando o submissso dono que a segue. Depois de tanta vida e tanta luta, como a Marta do Evangelho, Millôr escolheu a melhor parte. Nada de ir atrás dos outros na arte, na política, no complicado ofício de viver. O mais sábio é não ser liderado por ninguém e nada, seguir ou perseguir um pedaço doce de açúcar, nacarado e fofo, fragilidade que desmancha na boca. Comecei a crônica com Stendhal. O lugar-comum das citações literárias remeteria ao início de um de seus romances, o personagem que assistiu à batalha de Waterloo e só mais tarde ficou sabendo que presenciara um acontecimento histórico.
Eu poderia repetir o personagem de Stendhal mas acho que tive esperteza. Bastante para guardar a memória de um domingo em Ipanema: eu vi o Millôr.
Nota: Era mesmo um machinho a companhia de Millôr — seu Poodle Toy Igor.